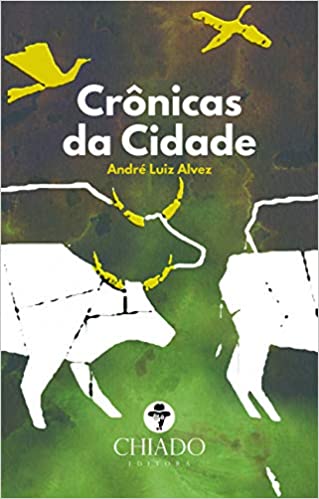A cabeça de boi, dois peixes de lágrimas e os segredos da prosa.
Num lugar onde a terra fica mais perto da lua, a deusa Yebá Bëló, debruçada na janela do seu castelo de quartzo, avistou a mata se abrir num rufar de ventos, mostrando diante de seus olhos de pedra imagens do futuro.
Em meio a névoa que se formou, enxergou uma bela cidade, das ruas largas e rodeada de flores de cores diversas. Luz, muita luz. Era um campo bem grande, e as flores de suas árvores tinham o perfume de terra vermelha.
A deusa se emocionou. Nunca antes havia visto um lugar tão belo. Seu rosto pálido enrubesceu e chorou como cantam os passarinhos. Duas gotas de lágrimas caíram em meio ao vendaval, escorreram da janela até o jardim, mergulhando num pequeno veio d’água. Não conseguiram se juntar, a corrente d’água logo se tornou enxurrada, levou cada gota para um canto, engolidas pelo redemoinho que se formou.
Yabá Bëló fez um gesto de mãos e as gotas se transformaram em peixes da cor de lágrimas.
Cada peixe sentiu a presença do outro e tentaram se encontrar, nadando loucamente entre os veios d’água como se estivessem em um labirinto.
A deusa sorriu: “tudo o que é sagrado um dia se encontra” fechou a janela e se trancou no seu castelo de quartzo levando na mente a imagem da bela cidade que ainda não existia.
Tempos depois…
Aconteceu durante o eclipse, quando de repente o dia se tornou noite, enlouquecendo os animais.
O boi desgarrado caminhou lentamente pelo topo de uma pequena elevação, percebeu, com o encantamento só permitido aos bois em dias de eclipses, ao longe o encontro de dois córregos como se fizessem parte de um só.
Se pudesse pensar, se tivesse a capacidade de imaginar, diria o boi consigo mesmo: que campo grande lindo é aquele? E de tão encantado, desconsiderou os perigos, prosseguiu caminhando até que de repente surgiu à sua frente uma onça faminta. Dos olhos da pintada, um raio de ataque refletiu. O boi não recuou, sabia que seria facilmente alcançado. Entre eles existia apenas um imenso tronco de árvore quase seco, restos de uma gigantesca e milenar árvore, lisa e sem galhos, há poucos passos do boi, distante mais de cinquenta metros da onça.
Na esperteza consagrada aos bois apenas nos dias de eclipse, correu até o tronco da árvore lisa, usou o casco afiado e o chifre pontiagudo, fez um esforço supremo até conseguir se pendurar na ponta da árvore seca. A onça ficou dando voltas, urrando de raiva, a fome escapando pela boca em forma de baba. Se pudesse falar, a onça, que nada sabia dos poderes do eclipse, reclamaria com a natureza: como pôde o boi escalar uma árvore, justamente a única sem galhos, na qual não posso subir para caçá-lo? Por instinto, imaginou que uma hora o bicho desceria. Assim pensando, permaneceu em vigília. O eclipse acabou e o dia se transformou em noite diversas vezes, nem a onça desistia, nem o boi descia. No dia que o céu não brilhou por conta das nuvens, a onça resolveu buscar outra caça. O boi não percebeu, morreu na noite seguinte, de frio, medo e sede. Seu corpo apodreceu, despencou aos poucos, até restar apenas a cabeça em cima do mastro enorme, os olhos secos voltados para o local de encontro entre os dois córregos, como se fosse um fiel vigilante.
Durante diversos eclipses, os peixes da cor de lágrimas prosseguiram se buscando.
Entre a correnteza um foi para o sul, outro para o norte, fizeram o contorno no delta do grande rio, cada um a seu tempo, invadiram os corixos, nadaram, nadaram e nadaram sem descanso.
No mesmo instante que o boi morria, há poucos quilômetros da árvore seca e sem galhos na qual pendia a cabeça do boi, a correnteza se tornou mais branda e o barulho do encontro dos dois córregos fez brilhar as pedras do encosto. O primeiro peixe era o feminino e se chamou de Prosa, o segundo peixe chegou em seguida, de nome Segredo. Seus olhos se encontraram finalmente. Nadaram num resto de força até ficarem bem perto, tão perto, e se peixes pudessem sorrir, teriam sorrido, se pudessem falar diriam alguma frase de amor. Prosa e Segredo finalmente unidos, escorados numa pedra coberta de musgos.
Então da sombra de um vegetal, partiu fulminante o voo de uma garça. Primeiro abocanhou a Prosa, deixando o Segredo assustado, sem ação, dando voltas em torno de si, apavorado de um tanto, não percebeu o novo ataque da ave insaciável, que o apanhou num certeiro ataque.
A garça pousou acima de uma pedra no meio do córrego para descansar. Prosa e Segredo finalmente se tornaram um só dentro da barriga da ave, juntos formaram a lágrima densa e forte, salgada de um tanto, tal qual um facho de fogo a arder dentro da barriga do bicho.
A ave sentiu a explosão dentro de si. Um suspirar profundo, o lamber apressado e trêmulo das patas, tentou alçar voo, arrastou-se pesada e surpresa, fatigada ao extremo, até tombar em meio à terra vermelha.
O passar do tempo incumbiu a terra vermelha que tombou a garça a se transformar num lençol de grama da qual nasceram diversos pares de flor petalada.
Flores e espinhos.
A beleza das flores atraiu as abelhas e as borboletas e elas espalharam os pólens por todo aquele imenso campo grande.
E passaram-se anos.
Os homens chegaram tempos depois e se deram com a visão dos majestosos e coloridos ipês floridos de várias cores.
Ninguém sabe ao certo qual foi o primeiro que por aqui chegou, se o fazendeiro da Cabreúva, o viajante mineiro, ou a escrava liberta.
Certamente, porém, foi Eva a primeira a pisar no espinho e se deixar dominar pelo perfume da terra vermelha. Apesar da dor provocada pelos espinhos enganchados nos pés, se encantou com o cheiro e a beleza da flor, levou-a até perto do rosto e assoprou de um tanto, fazendo os pólens voarem ao seu redor até formar no ar o rosto sagrado de Yebá Bëló.
Eva sorriu, os grandes olhos aguados, duas lágrimas escapadas, salgando a terra na qual seus pés se prenderam para sempre.
Tempos depois, antes dos quartéis e dos trens, o velho fazendeiro resolveu erguer uma porteira diferente das demais: forte e potente, ferro de pouca liga, quase puro, com cinco ou seis dobradiças, para ranger alto quando tocadas, e assim avisar da chegada das boiadas: o portão de ferro. Dos campos de vacaria vieram as comitivas e os carretos. O gado abriu um trieiro na mata, depois os homens marcaram a estrada com facão, abriram o caminho na força das mãos, até se encontrarem exatamente diante do imenso mastro de árvore na qual pendia uma esplêndida cabeça de boi.
Mais tempo correu e hoje o portão de ferro é uma Avenida movimentada que dá acesso ao monumento da Cabeça de Boi.
Nasci ali bem perto, no quintal longo e estreito no qual pisei numa dessas flores das pétalas coloridas e o espinho formou raízes nos meus pés.
Penso nisso enquanto o meu carro para no cruzamento onde antes existia o portão de ferro. Aguardo o sinal abrir e depois percorro até quase o final da Avenida, passo em frente à antiga casa que nasci, aquela mesma da qual fomos expulsos por razões que nenhuma prosa consegue desvendar o segredo. São espinhos e lágrimas, palavras que não rimam, razões enterradas.
Passeia por ali o vulto de uma ilusória Aurora.
Viro à direita, atravesso os quarteis, prossigo no mesmo caminho das boiadas, até dar de frente com o monumento erguido em homenagem à cabeça de boi.
Então ergo os vidros do carro, permito o vento bater forte no meu rosto até salgar a minha pele com o cheiro da terra vermelha, sinto minha alma envolvida pelos pólens das flores e a dor aguda dos espinhos fincados nos pés.
Olho em torno e contemplo a cidade nascida de duas gotas de lágrimas de uma Deusa, aquele mesmo campo, tão grande e floreado, que ainda hoje se reflete na cabeça de boi.